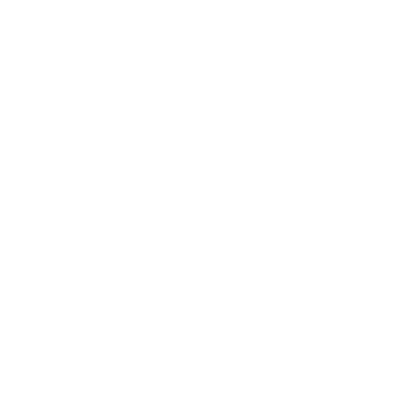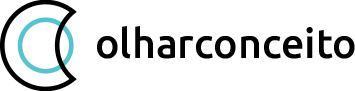Nossos olhos possuem uma certa inocência que nos impede de ver a brutalidade da violência em sua essência. Mesmo acompanhando notícias estarrecedoras, casos impressionantes e histórias com fins trágicos nos jornais, existe uma certa película de proteção, que limita nossa visão que distingue a violência da extrema violência. Se ela não faz parte do seu ambiente social, é difícil figura-la em sua real brutalidade.
Martin Scorsese é o tipo de cineasta que trabalha essa “honestidade” da violência, pois a viu de perto. Crescendo em Little Italy, bairro nova iorquino contaminado pela máfia italiana, ele pôde observar tragédias com as quais a maioria das crianças não lida. Toda essa carga sangrenta foi, brilhantemente, convertida para o cinema. Se na arte não se pode falar daquilo que não se conhece, Scorsese soube canalizar a dor que presenciou, nos trazendo relatos fiéis do que a carnificina faz ao homem. Mas isso é apenas uma ilustração, com fins de contextualização. Tudo para dizer que a nossa perspectiva filtrada de violência é pequena, em relação ao que acontece lá fora, no mundo real, nas favelas, nas brigas sangrentas de gangues e na disputa por poder a todo custo.

E quando o cinema se apropria dessa intensidade para contar uma história, temos a chance de visualizar com outros olhos o lado-de-lá. Ampliamos nosso campo de visão a respeito de outras realidades e conseguimos compreender melhor o quão árdua é a vida em sociedade em alguns contextos. E isso ultrapassa o campo da violência crua, sangrenta e chocante. Isso encontra outros aspectos da vida, à medida que somos apresentados à histórias mais reais, conhecendo mais a fundo a mente do ser humano, aquelas coisas que todos pensam mas – por pudor ou autocensura – não mencionam. Em outras palavras, é mais ou menos o que vemos no auge da adolescência hormonal do clássico teen Mulher Nota Mil, nos diálogos inteligentes e incompreensíveis de uma juventude confusa de Embalos de Sábado à Noite e na violência crua de RoboCop.
A transfiguração da vida real para as telas de cinema se dá perfeitamente em RoboCop (1987). Assim como eu, muitos cresceram desfrutando desse filme, estupefatos com a tecnologia apresentada logo na sua primeira parte (com o robô ED 209) e chocados com a morte mais violenta que uma criança poderia presenciar nas telas (o fim trágico do policial Alex Murphy). Enquanto nos Estados Unidos havia restrições sobre a veiculação do filme, no Brasil nos deparamos com intermináveis sessões da tarde onde assistíamos repetidamente a RoboCop e suas sangrentas cenas.
Mas o que vale aqui não é a facilidade ao acesso a filmes sangrentos por parte das crianças nas décadas anteriores, mas sim a compreensão deste mesmo sangue na tela. RoboCop não poderia ser de outro jeito e ensinou a nós, pequenas mentes crescidas nos anos 80 e 90, que a tecnologia está a serviço do poder e nem sempre do homem. O Ultra violento sci-fi do cineasta Paul Verhoeven, mostra a velha Detroit, sucumbida pela violência e crimes de diversas formas e que passa de centro industrial norte-americano, pós Segunda Guerra Mundial, para uma cidade que sofre com a segunda metade do século, se transformando em resquícios de uma capital que vivia do progresso tecnológico.
O ar cinzento e feio toma conta dos bairros da cidade abandonada que não vê solução para as crescentes mortes de civis e de policiais em serviço. Quando a multinacional Omni Produtos de Consumo (OCP) decide lançar sua ousada tecnologia policial em uma reunião com a diretoria, falhas no sistema nos presenteiam com um banquete sangrento, ao observamos um funcionário da empresa ter seu corpo retalhado diante de todos. O mais impressionante no filme não é a morte em si, mas como ela foi absorvida por todos ali. Detroit se tornara uma espécie de Atlantis submersa no crime. Assistir a Ed 209 estraçalhar o corpo de um executivo não gera reflexo nenhum em relação a morte, mas sim em relação ao mal funcionamento do robô. Para alguns, seria o extremo da insensibilidade. Para o contexto do filme, o reflexo de uma sociedade que se acostumou com a perda, o sangue, a morte.

Essa cena, mais do que o próprio assassinato do policial Alex Murphy (Peter Weller), dita todo o tom sombrio do humor negro encrustado em RoboCop. A OCP quer uma solução tecnológica não por garantia de uma vida mais confortável para a população desacreditada de Detroit, mas para que o progresso volte a tomar conta da cidade abandonada. E isso fica mais nítido ainda quando Alex é transformado no RoboCop. Usa-se os pequenos aspectos humanos que ainda lhe restam – para gerar empatia e aceitação por parte da população – e tira-lhe o que sobra de sua identidade, a substituindo pela tecnologia eletrônica, que tomava formas mais concretas nos anos 80.
E é fascinante observar o quanto é complexo mexer no ser humano em prol da tecnologia avançada. Acreditando ter sido “tirado” qualquer flagelo emocional de Alex, a OCP descansa por considerar que a solução da violência havia se concretizado. Mas o filme nos mostra que o homem não funciona semelhante a uma máquina, com fios, cabos e engrenagens e o conflito que essa junção gera com a mente de Alex nos traz a essência da violência. Não se trata apenas de morte e tiros. Se trata da agressão psicológica que o policial sofre quando passa a recuperar – aos poucos – as lembranças humanas que foram sufocadas ao se transformar em RoboCop. A OCP considera o homem substituível, descartável, tudo pelo progresso e pelo consumo. Mas a reviravolta de RoboCop lembra crianças e adultos que essa nova era tecnológica é incapaz de sobrepor o homem ou simplesmente escravizá-lo. Em um universo onde somos reféns da evolução (anteriormente) eletrônica e digital, o filme nos mostra a ironia da libertação, que se concentra em aprisionar a mente do homem em logaritmos, dados e códigos fonte.
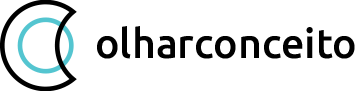
(4).jpg)