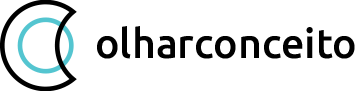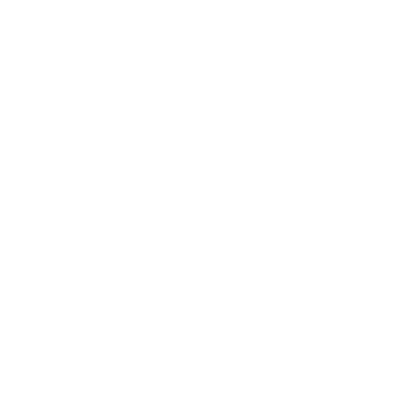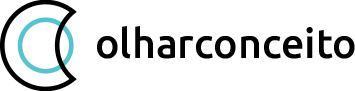Colunas
Gonçalo M. Tavares: o absurdo, o simples e o essencial
Autor: Matheus Jacob
04 Ago 2014 - 15:27
(1).JPG)
Stéfanie Medeiros
Sobre o português Gonçalo M. Tavares (1970- ), disse José Saramago que ele vencerá “o Prémio Nobel para daqui a trinta anos, ou mesmo antes”. Saramago disse também que “Gonçalo M. Tavares não tem o direito de escrever tão bem apenas aos 35 anos: dá vontade de lhe bater.”
Português nascido em Angola, aos 44 anos (sai este texto em 2014) já venceu o Prémio Portugal Telecom, o Prémio José Saramago, o Prémio Revelação de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores e ainda alguns outros. Escreve romances, contos, poesia, peças, (alguns dos livros relacionados entre si, alguns que fazem parte de uma “série” de 3 ou 4 volumes, outros independentes dos demais), Gonçalo M. Tavares cria mundos dentro de mundos, dentro de mundos, dentro de mundos – e com eles aprendemos sobre o velho mundo que temos ao nosso redor.
Gonçalo é por esses e outros motivos uma das maiores forças criadoras da literatura contemporânea mundial.
Gonçalo M. Tavares às vezes diz (como numa palestra que deu ano passado na Universidade de São Paulo [USP]) que seu processo criativo tem várias etapas, entre as quais a de eliminar boa parte daquilo que escreve.
Explico: Gonçalo deu o exemplo de um prefácio que ele escreveu a um de seus livros; o prefácio tinha 4 páginas e assim foi mandado à editora. Alguns dias depois, o autor entrou de novo em contato com a editora e disse que diminuíra o prefácio, que agora tinha apenas duas páginas. Ainda outros dias mais tarde, Gonçalo manda uma versão menor, e depois mais uma versão que tinha apenas um parágrafo – e o prefácio foi dessa forma publicado.
O exemplo acima dá bem o tom não só do processo criativo de Gonçalo M. Tavares, mas também (e principalmente) dos textos em si. Num livro de Gonçalo não há palavras sobrando, não há o desnecessário, nada que está ali poderia estar em outro lugar ou simplesmente não existir: o texto foi tantas e tantas vezes cortado que atinge aquela essencialidade que eleva seus textos à categoria dos “textos irretocáveis”.
É difícil não se lembrar do processo criativo de Graciliano Ramos, tão bem exposto no seu já antológico texto de “Linhas tortas” (1962):
“Deve-se escrever da mesma maneira com que as lavadeiras lá de Alagoas fazem em seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada, molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o pano, molham-no novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, ensaboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxáguam, dão mais uma molhada, agora jogando água com a mão. Batem o pano na laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, torcem até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal, para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa. A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a palavra foi feita para dizer.”
A limpeza (quase manual, quase como se lavasse mesmo com sabão e agua fria) dos textos de Gonçalo M. Tavares tem, no entanto, uma faceta que não é tão forte na obra do nosso Graciliano Ramos: as tramas absurdas, o “absurdo institucionalizado” que nos traz à mente Franz Kafka, como se verá no conto que reproduzirei logo abaixo – o conto “A queda”, do livro “Canções Mexicanas” (2011), texto desesperador escrito com uma apenas aparente frieza (quem se lembra de “A Colônia Penal”, de Kafka?).
Antes de terminar o (curto) texto de hoje, é necessário repetir o que Saramago primeiro (e melhor) disse: logo veremos Gonçalo M. Tavares recebendo sua medalha em Estocolmo.
Hoje optei por reproduzir um só texto do autor – mas o conto inteiro. Não se pode cortar Gonçalo M. Tavares (e se pode cortar alguém? Enfim, continuarei). Abaixo o conto “A queda”.
“Num certo sentido, isto: assumir que a energia da gravidade é coisa para alimentar os cães, se necessário – dá comida ao mundo, essa energia gravítica, como se os abutres fôssemos todos nós e, quando um homem caísse, rapidamente acudíssemos a essa queda e devorássemos a energia que fica em redor de um corpo caído, destroçado, feito em fanicos; a questão não é tanto a carne do morto, isso não interessa aos abutres, o que importa é outra coisa, são os restos que estão à volta, esses restos que nós e os cães vamos comer ou beber como se a energia fosse uma coisa material e não uma invenção da cabeça; e sim, eis o belo mundo em que poderemos crescer mais fortes, o mundo em que a cidade se alimenta da queda, das várias quedas, das quedas de um objecto, de um vaso de uma senhora distraída que com o cotovelo o faz cair; dessa queda, sim, vem energia – mas a cidade alimenta-se acima de tudo, da queda de corpos humanos: suicídios nas pontes, por exemplo, dão uma energia intensa, energia que activa o comércio do centro, que faz mexer as pessoas como se as pessoas tivessem uma pequena roldana que as accionasse: a pressa que vemos subitamente nos rostos teve origem, pois, bem lá atrás, na forma brutal e invulgar como o corpo do suicida bateu na água. Queda, portanto, como a energia que substitui o petróleo e todas as outras fontes naturais: a cidade mantém-se em movimento, as casas mantêm a luz, a electricidade não vai abaixo porque de quando em quando há um corpo que cai; um belo corpo humano em queda desde o 60º andar, ou desde o quinto andar – quanto mais alto, claro, quanto maior o percurso da queda, mais energia gravítica é libertada; e a queda só liberta energia quando é uma queda mortal, portanto os outros homens não salvam, quando muito acodem à queda, aproximam-se e fingem uma última tentativa de salvamento quando afinal estão a parasitar a energia da gravidade de que o corpo desfeito já não precisa – porque certamente há muitas ciências e uma delas poderia pensar na diferença da queda de u corpo já morto e de um corpo vivo. É como se no corpo morto não fosse já a terra que puxa, mas o corpo que se deixa cair. Tem uma passividade dupla, o corpo morto, e ninguém faz força contra quem não reage – a terra é assim, não é diferente de um homem médio corajoso: se não lutas eu também não; o corpo morto cai e a sua queda, mesmo que do alto de sessenta andares, liberta energia, sim, e muita e importante, mas acredita-se que a queda de um corpo vivo é sempre mais forte, mais poderosa, mais generosa – oferece mais à cidade. A isso se chama sacrifício se vivêssemos noutros tempos, mas assim está bem. E os homens que recolhem o lixo são agora acompanhados por outros que recolhem as quedas. Uns recolhem os mortos e o lixo, enquanto ao lado deste grupo, outros homens recolhem a queda – e não os corpos -, como se esta fosse elementos com átomos, um elemento com substância. Mas a queda é isto mesmo: os homens recolhem uma sensação, tentam absorvê-la como um fato absorve água e a faz desaparecer e a certa altura não existe fato e água, mas apenas fato húmido; eis o que procuram os que levam a energia que se libertou na queda de um corpo sólido para a sua velha madre que está a morrer, ou para os seus filhotes, para que cresçam grandes e fortes, e a vida é isto: um certo prazer que vem da queda dos outros. Roubei a energia gravítica de uma queda e aqui estou eu a trazer o esforço do meu dia para a mesa da família. Vamos comemorar e temos energia suficiente e, sim, eis como aconteceu um certo dia, as quedas tornaram-se indispensáveis: um empurra o outro para que a cidade não pare.”
Comentários no Facebook