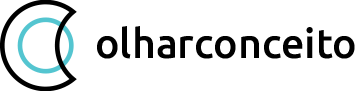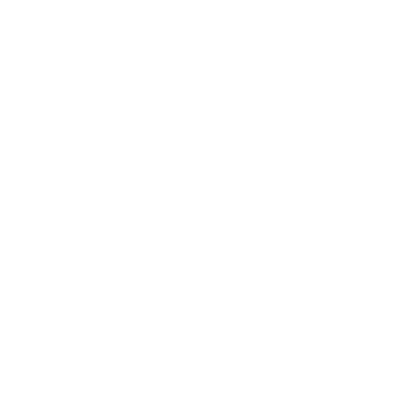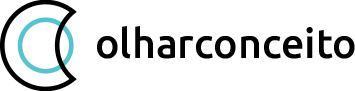Colunas
Ivan Junqueira: velhos versos, vozes novas
Autor: Matheus Jacob Barreto
25 Ago 2014 - 10:25
.JPG)
Stéfanie Medeiros
Antes de começar a coluna de hoje, vou repetir o aviso dado na coluna anterior (e farei isso por mais algumas semanas), e que é: “Antes de começar o texto da coluna de hoje, acho interessante esclarecer algo que já me parecia claro, mas talvez ainda não esteja: que este texto (ou os anteriores, ou os próximos), este texto não é uma análise propriamente dita – lhe falta profundidade de análise, profundidade essa que nem é meu objetivo desenvolver aqui nem me caberia alcançar num texto de jornal. Este texto é uma conversa com o leitor. Apenas isso. Somos o leitor e eu sentados conversando sobre esses artistas fantásticos. Aviso feito, vamos ao texto de hoje (à conversa de hoje)!”
Ivan Junqueira (1934-2014), que morreu mês passado (julho), ocupa na literatura brasileira contemporânea um lugar de importância muitas vezes pouco observada: no turbilhão e na variedade impressionante de inovações e novas experimentações da poesia das últimas décadas, Ivan Junqueira foi uma voz que destoava um pouco pelo uso quase exclusivo de formas antigas (com exceção, talvez, de alguns poemas mais experimentais no livro “Os mortos” - seu primeiro livro)
É importante tomar cuidado, no entanto, para não confundir o uso de formas antigas com poesia antiquada, ultrapassada. A poesia de Ivan Junqueira tem um tipo de força serena, sem grandes sobressaltos nem movimentos bruscos, uma força já assentada nas ferramentas que lhe deram – sem a necessidade de criar ferramentas novas. Eis, por exemplo, o poema “Gato”, do livro “O grifo”:
GATO
Vai e vem. O passo
deixa no soalho,
menos que um traço,
um fio escasso
de ócio e borralho.
Clara é a pupila
onde não chove
e que, tranquila,
no ermo cintila,
mas não se move
A pose é exata
a de uma esfinge
da cauda à pata,
nada o arrebata
ou mesmo o atinge.
Aguça o dente,
as unhas lima:
brinca, pressente
e, de repente,
o pulo em cima.
A voz é como
sussurro de onda;
infla-lhe o pomo,
túmido gomo
que se arredonda.
Lúdico e astuto,
eis sua sorte:
alheio a tudo,
olha sem susto
o tempo e a morte.
A poesia de Ivan Junqueira demonstra um domínio impressionante da técnica, dos ritmos, dos metros, das assonâncias. A bagagem de leituras de Junqueira é também de assustar: cobre séculos e séculos de poesia nas mais diversas línguas (e de algumas delas ele traduzia poemas ao português); além disso abunda o conhecimento de música, artes plásticas, história. Ivan Junqueira não me parecia muito preocupado com a “inovação” - que, aliás, é uma característica superestimada nos estudos literários.
A inovação (na arte) deve seguir um movimento natural, creio eu: o artista se depara com um problema para o qual ele não encontra solução - ou não vê solução com as ferramentas que tem por perto - e por isso (só por isso) ele cria ferramentas novas que deem conta daquilo que quer solucionar. Não acredito em inovação fria, aquela pelo simples desejo de inovar.
Se, por algum motivo, o artista se vê satisfeito com as ferramentas que tem em mãos, não há motivo para criar novas - e Ivan Junqueira parece um poeta satisfeito com suas ferramentas.
A poesia de Ivan Junqueira se assemelha a um mar já calmo, já liso, já sereno. Mesmo quando trata da morte (seu objeto mais recorrente, do primeiro ao último livro), há ali um desespero sereno, um desassossego sossegado.
MORRER
Pois morrer é apenas isto:
Cerrar os olhos vazios
e esquecer o que foi visto;
é não supor-se infinito,
mas antes fáustico e ambíguo,
jogral entre a história e o mito;
é despedir-se em surdina,
sem epitáfio melífico
ou testamento sovina;
é talvez como despir
o que em vida não vestia
e agora é inútil vestir;
é nada deixar aqui:
memória, pecúlio, estirpe,
sequer um traço de si;
é findar-se como um círio
em cuja luz tudo expira
sem êxtase nem martírio.
E, por fim, o poeta assume a voz de Penélope ao criar um dos poemas mais duros de sua produção – mas uma dureza apaziguada, serena (é preciso repetir essa palavra!). A Penélope que espera o retorno de Ulisses negando todos os seus pretendentes, tecendo e desfazendo o que teceu (o poeta, talvez?).
Todos os poemas aqui reproduzidos são do livro “O grifo”, escrito entre 1983 e 1986:
PENÉLOPE: CINCO FRAGMENTOS
5
Só. Estou só. O mar que me circunda
é um dédalo de arcaicas escrituras,
de alígeras e esfíngicas criaturas
cujo perfil o azul do oceano inunda.
Meu rei se foi. Em que ânforas e agruras
agora, em desespero, ele se afunda?
Que ninfa o enfeitiçou, que água profunda
lhe enche de horror as órbitas escuras?
Ó doce e astuto Ulisses, tuas vinhas
sangram de dor, definham as espigas,
o ouro esfarela, enfezam as olivas
e a terra seca engole os bois que tinhas.
Só. Estou só. Tudo em redor esquece:
o olho que chora, a alcova, a mão que tece.
*A coluna Rubrica, publicada todas as segundas no Olhar Conceito, é assinada por Matheus Jacob Barreto. Matheus nasceu na cidade de Cuiabá/MT. Foi um dos vencedores das competições nacionais “III Prêmio Literário Canon de Poesia 2010” e “III Prêmio Literário de Poesia Portal Amigos do Livro de 2013”. Teve seus poemas vencedores publicados em antologias dos respectivos prêmios. Em outubro de 2012 participou da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Estuda na Universidade de São Paulo e mora na capital paulista. Escreveu o livro “É” (Editora Scortecci, 2013).
Comentários no Facebook