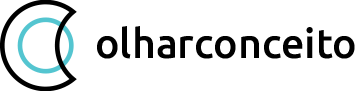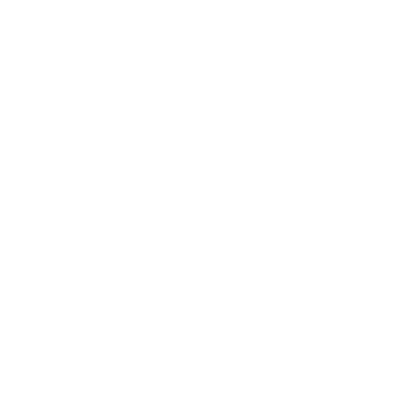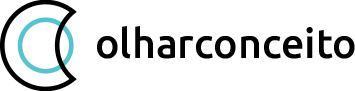Taj Mahal, um garimpeiro do blues
05 Jun 2013 - 17:13
Estadão
Há uma semana, Taj Mahal subiu ao palco com os Rolling Stones, em Chicago, para tocar um hit seu de 1968, o rock'n'roll Six Days on the Road (composição de Dave Dudley). A reverência dos Stones a Taj Mahal não é uma novidade: ele tocou com a banda na turnê Bridges to Babylon, de 1997. O som de Taj Mahal cristaliza uma revolução permanente, e os Stones sabem disso.
Aos 71 anos, Henry St. Claire Frederick, o Taj Mahal, está tinindo. A voz é a mais poderosa entre os bluesman históricos, e toca o violão e a guitarra com raro domínio técnico, modernidade e poder de combustão, sempre em busca de uma pepita rara. No festival de jazz de New Orleans, em abril, surgiu com uma banda com 10 tubas, com efeito bombástico.
O nome artístico lhe veio num sonho. Ganhador de dois Grammys nesta década, próximo tanto das sonoridades do Delta do Mississippi quanto das tradições africanas e da Índia, Taj Mahal toca nos dias 11 e 12, no Best of Blues Festival, no WTC Golden Hall (Avenida das Nações Unidas, 12.551, Brooklin, São Paulo). O músico falou ao Estado sobre a sua filosofia musical.
O sr. nunca é conservador, seu blues está sempre em movimento. Há poucos como o sr. no gênero hoje em dia, tem muita gente estagnada.
Certo, certo, certo. Eu entendo da seguinte maneira: há poucos compositores de blues hoje em dia, e sobraram pouquíssimos dos grandes instrumentistas. Havia uma época em que havia muita gente incrível tocando. É correto dizer que estou sempre me movimentando para a frente, sou um compositor, trabalho com as ideias do agora. Mas toda a música vive uma crise no momento, ninguém quer gravar as novas composições, temem que não dê lucro. É normal que os jovens músicos se voltem então para as composições de gente como Muddy Waters, porque ele deixou grandes composições gravadas. E preciso olhar o passado para criar o futuro.
O negócio da música mudou muito, não?
É sempre a história de alguém querendo fazer dinheiro com a música. Então, querem que a música mude para se adaptar aos seus propósitos.
Em New Orleans, o sr. colocou 10 tubas no palco ao lado de sua guitarra e sua banda. Qual o sentido disso?
A primeira explicação é que... os sopros são únicos. A primeira vez que ouvi, em 1969, fiquei maravilhado. Havia um cara que tocava com John Coltrane, Ray Draper, e aquilo me deixou vivamente interessado. Fiquei atento ao tipo de harmonia que podia produzir. Então eu conheci Howard (Johnson) em Nova York, e depois Bob Stewart, e Dave Bargeron, que também tocavam a tuba, e eles tocaram comigo. Ouvi sete tubas servindo ao jazz, e fiquei pensando como seria se aplicasse aquele som a outros gêneros. Sabia que, em New Orleans, terra das brass bands, todos na plateia têm o som da tuba como parte da família. Todos os músicos que chamei para tocar na cidade ficaram animados com a ideia. Estávamos num festival, e o efeito daquilo na plateia seria imediato.
O sr. já tocou muito no Brasil. Qual é o tipo de relação que tem com a música daqui?
Eu sempre achei que, mesmo não tendo crescido no Brasil, tinha uma familiaridade imensa com a música do seu país, era como se tivesse nascido aí. A primeira vez que ouvi o toque de Bola Sete no violão, amei. E eventualmente, ouvia também Sergio Mendes, Tom Jobim, João Gilberto, Astrud Gilberto, os caras da bossa nova. Eu me apaixonei pelo samba e pela batucada assim que ouvi pela primeira vez. Sou um grande amigo de Gilberto Gil, amo a música de Caetano e Milton Nascimento, Hermeto Pascoal, Airto Moreira, Flora Purim. E Marisa Monte, Jorge Benjor. A última vez que estive no Rio, conheci o cara que arranjou algumas músicas para Marisa Monte, o Dadi. Como é o nome dele mesmo? Eduardo Carvalho? Colocou cavaquinho num disco da Marisa Monte. Também conheci Roberto Frejat, ele arranjou algumas músicas para minha banda. É um cara fabuloso. Aprendo com todos eles. Eu sinto a música brasileira, ela me toca, afeta minha emoção. É uma música que eu compreendo perfeitamente.
O sr. é um músico onívoro, come de tudo para achar seu som: funk, jazz, reggae, blues. Por que acha que é importante colocar de tudo em sua música?
(Risos) É mais ou menos como escolher entre feijoada e moqueca de peixe. Trata-se apenas de escolher o que convém àquela formação, aquela fome. Essa é a experiência da música: ouvir tudo que há de som ao seu redor hoje, no mundo, e cristalizar algo que seja seu, tenha sua assinatura. O resultado tem de ser algo que fale para todo o planeta. A música que ouvimos hoje tem uma matriz comum, a África, e sua presença está no jazz, no blues, no samba. É possível fazer conexões com o lugar de onde vieram, levá-la de volta para a Nigéria, Angola, Moçambique, mas esse som que vocês ouvem, por exemplo, é decididamente brasileiro. Para mim, o blues é um estilo internacional, não é norte-americano. Vocês têm bluesmen extraordinários.
O sr. está no seu auge como artista nesse momento, sua voz está forte como um trovão, rascante, e está tocando magnificamente a guitarra.
Eu só faço o que faço. Como eu toco com bandas diferentes, porque eu sou um compositor, eu tenho apresentações diferentes. Aquela big band de New Orleans, aquela especial combinação se prestava a uma coisa, o trio se presta a outra, um quinteto tem outro efeito. Lá em New Orleans, eu estava preocupado com o som do piano, estava ansioso em fazer um bom concerto. Com uma banda daquele tamanho é sempre muito diferente, mas eu estava animado. Eu estou sempre animado.
Entre em nossa comunidade do WhatsApp e receba notícias em tempo real, clique aqui
Assine nossa conta no YouTube, clique aqui
Comentários no Facebook